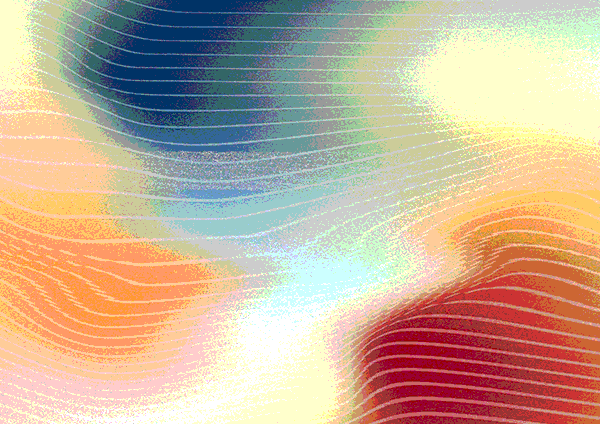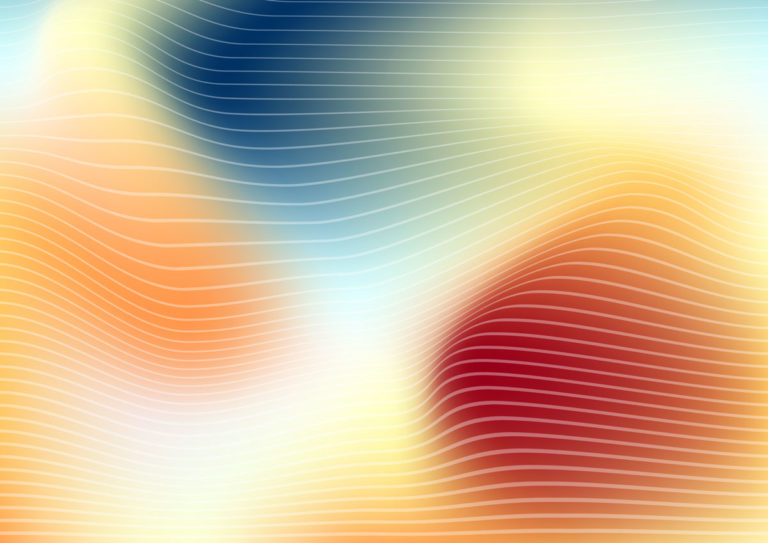A riqueza da cultura Munduruku está aparente no repertório de canções tradicionais, de poesia, da cosmologia presente nas narrativas sobre os astros, constelações e da Via Láctea, chamada de Kabikodepu. E os saberes de autoatenção como tratamentos caseiros, que são plurais e acessíveis, explica o antropólogo Daniel Scopel, são “compartilhados pelas redes sociais formadas pela relação entre parentes, vizinhos, amigos”. Ao incentivar a continuidade e a valorização da medicina indígena, lideranças fortalecem sua autodeterminação e a manutenção de sua existência.
Nos anos 80, os estudos viam os saberes populares como uma forma de contrapor a noção eurocêntrica e capitalista da biomedicina. Porém, Daniel aponta que a problemática vista nessa condição é atrelar os saberes indígenas como reativos à biomedicina hegemônica, negando a possibilidade de outra epistemologia sistematizadora de saberes. E essa oposição cria a noção de “tradicional” e “moderno”, no qual a alegoria de mundo globalizado valoriza as inovações tecnológicas e o critério científico. “Tal preconceito reafirma que caberia à modernidade estabelecer os critérios de ‘verdade’ através da ciência, relegando às epistemologias periféricas o estatuto de ‘crenças falsas’”, destaca o estudo.
Esses preconceitos precisam ser postos de lado, tendo em vista que a medicina indígena, assim como o entendimento de viver indígena – seja no trabalho, na alimentação, na economia – se entende como uma parte de um todo maior, que envolve a Natureza. “Água e alimentação são fundamentais para manter um ambiente saudável. Um ambiente saudável apresenta como consequência um corpo saudável”, explica Danielle Gonzaga, professora da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e descendente do povo Munduruku.
Segundo Danielle, a diferença fundamental entre as medicinas indígenas e ocidental está na observação do ambiente. “Entendemos que nós somos parte do ambiente e sendo parte dele, nosso organismo é compreendido como o ambiente”, relata, “a cosmografia permite interpretar a melhor época para determinadas ações, dessa maneira prevenimos doenças e sabemos quais os melhores recursos para manipular e tratar doenças”. É por isso que eventos como o ocorrido na aldeia Dace Watpu sigam acontecendo – para que a nova geração saiba a necessidade de cultivar determinadas plantas, que são consideradas de cura, em determinados períodos do ano.
Cosmologia indígena: resistência
A Fepipa (Federação dos Povos Indígenas do Pará) realizou, em agosto, um evento junto à Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) Brasil, com intuito de resgatar remédios esquecidos, na aldeia Dace Watpu, do povo Munduruku, no Médio Tapajós. Foram mais de dez aldeias envolvidas na troca de saberes tradicionais responsáveis por curar toda a aldeia, passados da geração mais velha para a mais nova. Ao incentivar a continuidade e a valorização da medicina indígena, lideranças fortalecem sua autodeterminação e a manutenção de sua existência.
O evento reuniu não só indígenas Munduruku, mas também outras etnias e pessoas não indígenas. Durante dois dias, lideranças, pajés, benzedeiras, caciques, parteiras trocaram conhecimento ancestrais e também experiências vividas durante o auge da pandemia da Covid-19. Hakakwyi Haraxare, da Terra Indígena Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins (PA), esteve presente no encontro. Enfermeira do Povo Gavião, ela foi uma das responsáveis pelo cuidado, isolamento e zero óbitos na aldeia por conta da estratégia adotada.
A estratégia seguiu, apenas, as recomendações da Organização Mundial da Saúde: distanciamento, higienização, vacina. Algo que o governo brasileiro não foi capaz de cumprir. “Logo quando começou, nós fizemos palestras, explicando como era nova essa doença, como se prevenir. Quando chegou na aldeia (Kyikateje), a gente seguia batendo na tecla e fazendo visita domiciliar”, relembra Hakakwyi, “o cacique, juntamente conosco – o pessoal da saúde – decidiu que ia diminuir o fluxo para a cidade. Saía somente as pessoas que tinham necessidade para comparar alimentação”.
A figura do cacique foi de suma importância para que as restrições de isolamento e distanciamento fossem seguidas. Algumas pessoas chegaram a pegar Covid na aldeia Kyikateje, mas sem graves complicações. “Foi muito difícil, mas conseguimos juntamente com o cacique. A gente conversava e ele reforçava sempre, e o pessoal daqui ouve muito quando ele fala”, afirma. Hakakwyi ouviu no evento outras experiências indígenas no cenário pandêmico, mas os saberes Mundurukus ficaram apenas entre eles.
Janaina de Oliveira, consultora ambiental e indigenista da Fepipa, explica que na hora de repassar os conhecimentos sagrados, não é feita tradução para os não-Mundurukus. “Isso também é uma forma de resistência”, relata. O distanciamento dos saberes ancestrais é uma realidade para os povos indígenas. Danielle conta que os conhecimentos medicinais registrados por Daniel na T.I. Kwatá-Laranjal, em 2011, hoje não são mais cultivados.
A professora aponta os diferentes processos de colonização como causa, como a escola e a igreja. “(Eles) afastaram nossa juventude da manutenção e transferência de certos procedimentos”, relata. Logo, o evento sobre transmissão de conhecimentos medicinais é de suma importância para a resistência indígena. Hakakwyi também faz esse movimento de buscar junto aos anciões a medicina tradicional. Ela conta que sempre pergunta aos mais velhos: “isso daqui serve para quê?”.
Sua preferência é pelos remédios da Natureza, que são considerados melhores. Os de farmácia, Hakakwyi afirma evitar. “Quando chega alguém e pergunta ‘você tem remédio para gripe?’, eu falo ‘você tem isso na sua casa? Faz isso, é muito melhor’”. A medicina indígena, assim como outros saberes, entende que tudo que é tirado da Natureza é para consumo próprio, apenas. Sempre com respeito, “você nunca tira um todo, sempre tira o que você precisa e deixa o que tem que ficar”, salienta Hakakwyi.
Trocas de saberes na era das redes sociais
Janaína aponta que o capital se apropria de tudo, subverte tudo, na questão indígena – o artesanato, os saberes – mas que muitas articulações têm utilizado a mesma ferramenta que o capital para atrair os jovens para sua cultura. “Vamos pegar esse rolê da sociobiodiversidade, vocês estão querendo gerar renda, nós vamos pegar de volta e precificar”, exemplifica.
A indigenista conta o caso de um ancião de um povo, que era o único que sabia fazer uma esteira. Acompanhando seu trabalho, a Fepipa comprou seu trabalho manual por R$ 400. “O sobrinho-neto dele estava deitado na rede, deu um pulo, e falou ‘ah, mas se está vendendo nesse valor, então eu quero aprender’”, conta, “o senhor disse: ‘mas para você fazer, você tem que passar por isso e isso, porque é um sagrado da nossa família’. E o garoto disse ‘ok’”.
Essa troca de saberes segue na oralidade e no conteúdo imagético – que Janaina aponta ser muito familiar aos povos indígenas. Logo, no caso da presença nas mídias sociais, eles aprendem muito rápido: “nesse cativar, eles estão trazendo de volta (seus costumes), porque percebem que nessa sociedade do consumo, uma dança que os parentes estão lá, todos pintados, dá mais likes e visualizações do que uma fala política dentro dos padrões não indígenas”.
Os mais jovens também percebem a modificação antrópica sob seus territórios e a emergência climática. “Nós temos que rever isso aqui, eu não posso mais tomar banho no meu rio Tapajós, porque me dá coceira”, ilustra Janaina. Eles percebem que precisam se movimentar, pois seus avós não conseguem mais – e com o apoio dos anciões, eles retomam as lutas pelo cumprimento de seus direitos. “A manutenção dos conhecimentos tradicionais de um povo é fundamental para sua autodeterminação e manutenção de sua existência”, afirma Danielle, “o futuro é ancestral, portanto a manutenção e retomada de nossos conhecimentos tradicionais são mais que necessários, sobretudo no atual momento político em que nos encontramos”.